 Depois do fenomenal descrédito em que caiu o dogma da infalibilidade do mercado (e da mão invisível que tudo regularia) eis que os seus grandes defensores começam a ressurgir dos recônditos onde se acoitaram algum tempo, como é o caso de César das Neves que agora regressa com umas pretensas «Lições da Grande Depressão», que mais não são que uma despudorada tentativa de afastar o ónus da resolução da crise do lado da oferta.
Depois do fenomenal descrédito em que caiu o dogma da infalibilidade do mercado (e da mão invisível que tudo regularia) eis que os seus grandes defensores começam a ressurgir dos recônditos onde se acoitaram algum tempo, como é o caso de César das Neves que agora regressa com umas pretensas «Lições da Grande Depressão», que mais não são que uma despudorada tentativa de afastar o ónus da resolução da crise do lado da oferta.
Chamo-lhes pretensas lições pois o seu autor prefere recordar da Grande Depressão o que define como o “grande mistério” da época – como é que se explica que «…perante uma queda tão acelerada de preços e eliminação maciça de empregos, as remunerações tenham demorado tanto a ser reduzidas»[3] – a lembrar que aquela, como a actual e a generalidade das outras, teve início num simples processo de especulação que se avolumou até à implosão. Beatificamente vai louvando as autoridades que «[a]pesar das críticas infantis de tantos acerca dos "milhões para a banca" [...] estão conscientes da necessidade urgente de sustentar as instituições financeiras que, por muito irresponsáveis que fossem na euforia anterior, continuam a ser pilares fundamentais da sociedade» mas, qual fero diácono, prontamente zurze os trabalhadores que não têm o emprego em risco como principais responsáveis pela manutenção dos elevados salários que são praticados no país, lançando para as profundezas do seu silêncio (e, esperará ele, para o conhecimento geral) o facto, hoje mesmo noticiado pelo DN, de que «Portugal é 7º a contar do fim nos salários da OCDE».
Defendo o mesmo tipo de solução, embora partindo do que se me afigura como uma perspectiva correcta sobre a realidade económica portuguesa – Portugal vive uma situação de crise económica bem anterior ao eclodir da crise internacional e que esta se deverá a um desajustamento entre a procura interna e a oferta –, Vítor Bento explica o desequilíbrio pelo excesso de procura face à capacidade produtiva interna, que originou o aumento das importações e do endividamento externo (4,7% do PIB em 2008 contra 1,6% em 2004), o que o leva a concluir que o «…crescimento da procura interna teve assim que recorrer ao aumento daquela dívida (8% do PIB por ano, em média), criando um círculo vicioso de empobrecimento»; não obstante afirmar um pouco mais adiante que «[s]eria de esperar que, com a procura persistentemente acima da oferta ao longo dos últimos 10 anos, o potencial produtivo do país se tivesse expandido. Não foi o caso [...] porque se investiu mal, baixando a produtividade. De facto, registando a mais baixa eficiência no espaço comunitário, esse investimento fez diminuir a produtividade do capital em 11.5%, entre 1999 e 2007. Por isso e apesar de a produtividade do trabalho ter aumentado 7.8% (muito pouco!), a produtividade total dos factores manteve-se praticamente estagnada (+0.5%), pelo que o (mau) investimento foi o principal responsável pelo empobrecimento relativo em que temos vivido», ainda assim defende a necessidade de «…aumentar a competitividade da economia, reduzindo os custos de produção das empresas e incentivando os investimentos que aumentem a produtividade e a capacidade de oferta»[4].
Perante este quadro a proposta lógica de actuação deveria passar pela mudança do paradigma dos investimentos públicos de fachada (entre os quais os tais não reprodutivos a que Vítor Bento se refere) e pela aplicação de políticas orientadas para o apoio ao consumo interno e aos sectores económicos orientados para esta procura[5], mas, pelo contrário, quer Vítor Bento quer César das Neves advogam uma política de redução dos custos da empresas (leia-se redução de salários) como via para a recuperação da depauperada economia nacional.
Quer um quer outro não adiantam qualquer explicação para a manifesta incongruência que consiste em apoiar as empresas e os empresários que por falta de iniciativa, de visão ou de capacidade financeira não escolheram os sectores de actividade mais adequados para o crescimento do produto nacional, nem produzem uma única reflexão sobre o absurdo que constitui o actual sistema financeiro, absorvedor de crescentes recursos públicos mas manifestamente incapaz de transmitir esses mesmos recursos para a área produtiva enquanto continua a lucrar com as crescentes margens de intermediação.
Na mesma linha de apreciação se pode inserir a opinião de João Ferreira do Amaral, que num artigo sobre o assunto[6] manifesta-se contra a redução dos salários, não pelo muito de inconsequente (salvo no inevitável aumento dos resultados das empresas) que terá sobre o conjunto do tecido económico uma ainda maior redução da procura, mas sim porque «…a descida dos salários poderia agravar ou criar novos desequilíbrios. Com efeito, dado o grande endividamento das famílias e das empresas, uma redução dos salários nominais iria provocar uma redução geral de preços que levaria as dívidas, em termos reais, a subirem e consequentemente a pôr em causa a solvência de muitas famílias e empresas» e «…iria originar também uma redução das receitas da Segurança Social, o que, ou faria surgir um saldo negativo no sistema, ou obrigaria a uma redução nominal das pensões de reforma».
Tudo isto me leva a concluir que em matéria de “lições” sobre a crise e sobre as formas de melhor a ultrapassar, continua por surgir entre a elite que nos dirige (e entre os que a aconselha[7]) quem de forma objectiva e sem subterfúgios aponte uma via de clara ruptura com os modelos de pensamento clássico e liberal; alguém que sem pejo aponte a premente necessidade de reorientar as políticas económicas para a melhoria das condições de vida das populações, a necessidade de novas regras no campo financeiro que proporcionem o retorno do dinheiro à esfera da circulação real da economia mediante o regresso da emissão de moeda à esfera pública e coloquem um travão eficaz às práticas de pura especulação financeira.
___________
[1] Ver o artigo «Dieta de sal» que o ECONÓMICO publicou.
[2] Oportunamente comentada no “post” «CANTOS NOVOS, RUMOS VELHOS».
[3] Citado do já referido artigo «Lições da Grande Depressão».
[4] Ver o já referido artigo «Dieta de sal».
[5] De acordo com esta notícia do DN, durante a sua passagem pelas Conferências do Estoril, Joseph Stiglitz defendeu que não será fácil que as exportações possam assegurar o papel de motor de recuperação das economias.
[6] O artigo referido chama-se «A redução dos salários» e foi hoje publicado pelo ECONÓMICO.
[7] Importa não esquecer que César das Neves e João Ferreira do Amaral foram conselheiros de dois dos primeiros-ministros que durante as últimas décadas mais tempo governaram o país, respectivamente Cavaco Silva e Mário Soares.




 É que contra argumentos como os que integram a canção:
É que contra argumentos como os que integram a canção:  e para mais ao ritmo que os “Xutos” lhe imprimem, a luta vai ser duríssima.
e para mais ao ritmo que os “Xutos” lhe imprimem, a luta vai ser duríssima. 





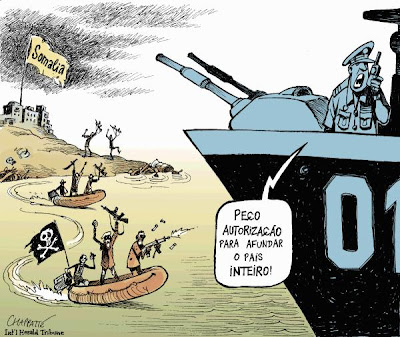





 na discussão entre a necessidade de mais Estado ou de muito mais Estado, com as conclusões a enunciarem mais um compromisso.
na discussão entre a necessidade de mais Estado ou de muito mais Estado, com as conclusões a enunciarem mais um compromisso.  Esta medida deverá ainda ser reforçada por um apoio ao comércio internacional, no montante de 250 mil milhões de dólares, e pela promoção de políticas anti-proteccionistas, mesmo quando no dia-a-dia continuam a surgir notícias que contrariam aquele princípio.
Esta medida deverá ainda ser reforçada por um apoio ao comércio internacional, no montante de 250 mil milhões de dólares, e pela promoção de políticas anti-proteccionistas, mesmo quando no dia-a-dia continuam a surgir notícias que contrariam aquele princípio.  Esta contestação será tanto mais heterogénea quanto ficaram por abordar (e ainda mais por resolver) questões tão importantes quanto o futuro da regulamentação e o respectivo modelo e supervisão, o papel futuro do dólar – continuará esta moeda a poder ser aceite como termo geral de troca internacional e de meio de reserva financeira, como até agora tem sido – e a necessidade de mudanças nos mecanismos de fixação das taxas de câmbio.
Esta contestação será tanto mais heterogénea quanto ficaram por abordar (e ainda mais por resolver) questões tão importantes quanto o futuro da regulamentação e o respectivo modelo e supervisão, o papel futuro do dólar – continuará esta moeda a poder ser aceite como termo geral de troca internacional e de meio de reserva financeira, como até agora tem sido – e a necessidade de mudanças nos mecanismos de fixação das taxas de câmbio. 
