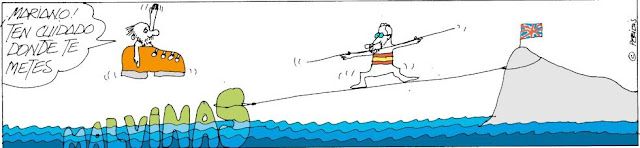Há muito que a grave situação na Síria deveria ter recebido os cuidados e
a atenção da comunidade internacional, porém a lógica dos interesses
geoestratégicos e as contradições dum sistema internacional de regulação (como
a ONU) assente na lógica ultrapassada dum mundo bipolar datando dos tempos da
“guerra fria”, tem-no adiado e esse custo continua a recair sobre as populações
desprotegidas.
O anúncio na passada semana de nova utilização de armas químicas na
Síria, para mais durante a permanência duma equipa de inspectores da ONU, com a
oposição a denunciar o regime de Assad e a contabilizar 1.300 mortos,
quando os «Médicos
Sem Fronteiras confirmam mortes provocadas por armas químicas na Síria» mas falam em 355 mortos e o Observatório Sírio dos Direitos Humanos contabiliza 322 vítimas, contribui pouco para esclarecer a situação de troca de acusações entre
governo e opositores.
Desconhecendo-se ainda as conclusões dos peritos no
terreno e enquanto a «ONU
pressiona EUA e Reino Unido para atrasarem intervenção militar na Síria», e depois de publicado que os «EUA
dizem que ataque químico na Síria é "indesmentível" e não ficará
impune» e «Londres
considera possível acção militar na Síria», numa conjugação de posições que
se assemelha perigosamente da “aliança” e da argumentação que fundamentou a
invasão norte-americana do Iraque em 2003, levando mesmo a admitir que «EUA
saltam sobre Conselho de Segurança para atacar a Síria» apesar duma sondagem da
Reuters/Ipsos dar uma maioria de 60% contra a intervenção («About
60 Percent Of Americans Are Against Intervention»), eis que o «Parlamento
britânico impede intervenção militar do Reino Unido».
Este inesperado contratempo, que não parece ter
alterado o planeamento de Washington que de pronto fez saber que os «EUA
não descartam avançar para a Síria sem os britânicos» quando, fazendo fé em
declarações de Hollande ao jornal LE MONDE
(«Le
massacre de Damas ne peut ni doit rester impuni»), até deverão poder contar
com o apoio francês.
Reagindo a estes cenários e com a certeza que os «EUA atuarão na Síria de acordo com os seus
"interesses"» e não com o objectivo de resolver qualquer problema aos sírios ou às
populações vizinhas, chega de Damasco a “bravata” de que a «Síria
promete responder se for atacada» e o «Irão
faz "aviso sério" contra intervenção militar na Síria», enquanto mais prudente a «Rússia
defende que Ocidente não pode provar ataque químico em Damasco».
Esta troca de
“mensagens” e as notórias semelhanças com os “discursos” que no Ocidente
antecederam o ataque ao Iraque reforçam a ideia de estarmos perante mais uma
tremenda hipocrisia e a habitual manipulação da informação, precisamente quando
até já em jornais nacionais apareceu a confirmação de que durante a Guerra
Irão-Iraque, a «CIA ajudou Saddam Hussein a gazear tropas iranianas».
Com a UE a
fazer coro com a dupla EUA/Reino Unido parece cada vez mais evidente que, como
escrevi no início do ano no “post” «VIOLÊNCIA
SÍRIA», ao actual regime alauita se sucederá um de origem sunita onde
pontificará a facção wahabita que deverá redundar no agravamento das tensões
entre as diversas minorias (curdos, turcos, arménios, drusos, xiitas/alauitas e cristãos ortodoxos),
antevisão que explicará uma notícia do VATICAN INSIDER (publicação do
jornal LA STAMPA dedicada ao Vaticano)
dando conta que o Bispo de Alepo se manifestou contra a intervenção militar
estrangeira («Vescovo di Aleppo contro intervento militare»)
desejando no seu lugar uma força militar que contribuísse para o diálogo.
Certo é que
enquanto decorre este jogo de empurra entre governo e as oposições sírias e
entre países os ocidentais e os tradicionais aliados da Síria (China, Rússia e
Irão), que não pressagia nada de bom nem construtivo para a região, as populações
sírias continuam a sofrer os habituais horrores das guerras e a UNICEF (órgão da ONU para a defesa dos
direitos das crianças) já anunciou que o «Conflito na Síria fez mais de um milhão de crianças
refugiadas», número que representa quase 50% dos refugiados dum
conflito que, segundo o ACNUR,
já originou mais de 6 milhões de deslocados.